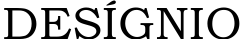Num bati nanhum!
Eram 10:30h e eu tinha que ir para a escola as 11:15h, entrementes o joguinho estava tão bom que nem me lembrei das horas e da escola. Não estava ganhando ainda, mais pressentia que iria ganhar logo, afinal, estava jogando bem melhor que os outros e eu os conhecia muito bem, na hora do vamos ver, eles iriam amarelar.
Lembro bem: o sol já estava muito quente, o ar muito seco e pouco ventava. Paulinho, cara-de-cavalo, sempre com sua tosse de cachorro; Olavinho de olhos arregalados e nariz escorrendo: na escola a gente chamava ele de Melequinha. Rasputin era calmo, muito amigo e de muita paciência com a gente. Seu pai era barbudo, muito branco e meio místico.
Um dia, o pai do Melequinha falou: olha lá o filho do Rasputin, apontando para Juvêncio. Até ontem, a gente chamava ele de Rasputin. Honório era fora de série, a gente tinha a mesma idade, mas ele era mais alto, mais forte, mais pesado que a soma de nós quatro juntos: Rasputin, Olavinho, Paulinho cara-de-cavalo e eu. Um dia sonhei que tinha subido num pé de melão, contei para meus amiguinhos, depois disso, só me chamavam de Jamelão; vai saber por quê ! Num entendi até ontem.
A rua era de terra. Não tinha calçada. As donas das casas, calculavam por conta própria e variam uma parte, assim a gente sabia onde terminava a calçada e onde começa a rua. Quase todas as casas eram fechadas com cercas de madeira, algumas de arame farpado. Só a casa do senhor Osnair era de arame liso, mas ele tinha um cachorro bravo dos infernos, roubar goiaba lá era dureza.
A minha casa era fechada com uma cerca improvisada, arame farpado, tábua lisa e um pouco de bambu. De vez em quando eu roubava uns pedaços de bambu da cerca de casa pra fazer papagaio e pipa com meus coleguinhas. Levava umas chineladas nas costas, mas a alegria de empinar pipa valia os vergões que ficavam na gente.
Melequinha morava na rua debaixo, mas pra ir a casa dele, a gente cortava caminho por dentro de um matagal que tinha nos fundos da casa de dona Jurema: uma negra risonha e muito boa com a gente, sempre tinha um doce pra dar pra nós. A gente tinha que desviar dum brejinho que tinha no meio do matagal, mas num tinha erro, no meio do brejinho tinha um pé de buriti. A casa dele era azul, cercada com arame farpado.
Olavinho morava na mesma rua de minha casa, mas cinco quarteirões para a direita, a casa dele era de tijolo vermelho, sem reboco, com cerca viva, a gente falava que ele morava na floresta.
Rasputin morava dois quarteirões depois da casa do Olavinho. A casa era toda de madeira, com só uma porta, que ficava no fundo da casa, na frente tinha uma janelinha e a cerca era de ripa.
Honório morava na rua de cima, mas ficava uns quatro quarteirões de minha casa, a casa era de alvenaria, mas na frente da casa tinha um curral. O pai dele era carroceiro da casa de construção A Constrular.
Estávamos jogando triângulo, com bolinhas de gude. Havia pelo menos umas quarenta e cinco bolinhas, de todas as cores: azuis, verdes, pretas, branco leite, essas eram as mais difíceis de achar para comprar. Haviam cinco bolinhas branco leite dentro do triângulo. Todos tinham jogado e erraram, agora era a minha vez. Eu sabia que minha destreza e sorte me ajudariam a retirar todas as bolinhas do triângulo.
Agachado atrás da linha que ficava há três metros de distância do triângulo, coloquei uma mão no limite da linha, com minha bolinha atiradeira entre o meu dedão e o dedo indicador da mão esquerda. Atirei a bolinha com a unha do dedão. Acertei numa branco leite que saiu do triângulo e minha bolinha atiradeira também. Mantendo um palmo de onde estava a atiradeira, continuei tirando as bolinhas do centro do triângulo e a atiradeira também. Que maravilha! Agora era só uma questão de paciência e eu ia rapar todas as bolinhas deles.
De repente, o sol aliviou a caloria, seu brilho foi ofuscado, a velocidade com que aquela sombra chegou me cegou de certa maneira. Via as bolinhas, a distância que me encontrava delas era pouco, mas sem a nitidez que um dia ensolarado nos dá.
Paulinho cara-de-cavalo, Olavinho, Rasputin e Honório, estavam agachados e concentrados nas minhas jogadas. Havia uma mistura de alegria entre nós por eu estar tirando todas as bolinhas e de espanto por eles estarem perdendo todas as suas bolinhas para mim.
Subitamente, os quatro se levantaram, se alinharam como numa linha de fuzilamento, os sorrisos esvaíram-se, a pele dos rostos deles ruborizaram e perderam o brilho. Melequinha passou as costas da mão direita no nariz, em seguida levou a mão no bolso de traz do calção e a manteve lá escondida. Rasputin contraiu os lábios, cerrou os olhos como se não conseguisse ver direito algo à sua frente. Honório após se levantar, juntou as duas mãos na boca, retrocedeu três passos e avançou dois passos. Paulinho cara-de-cavalo coçou os olhos, limpou com a mão direita, coçou novamente com a mão esquerda, depois, com a boca aberta, levou as duas mãos na testa e deslizou as até a nunca e por lá as mãos se acomodaram e permaneceram inertes.
Por um momento pensei que eles queriam me distrair para que eu errasse, voltei os olhos para o jogo, calculei a próxima jogada, mas não consegui jogar sem antes olhá-los novamente. Estavam como dantes. Comecei a rir, mas meu riso me irritou! Afinal, aquela atitude deles era totalmente diferente, absurda! Forcei outro riso, mas não consegui!
A sombra se tornou mais intensa, mais escura, ao mesmo tempo que a sombra me assustava, meus amigos começavam a dar sinais sutis de desespero entre eles. Contei quantas bolinhas já tinha papado: trinta e oito. Haviam mais oito no centro, mas perdi a concentração. A sombra, a imagem de meus amigos e suas mudanças de comportamento, não só tirou minha concentração, mas trouxe dúvidas, insegurança, impaciência e por fim, o desespero. Afinal, o que estava acontecendo? Porque o medo se apossou de mim?
Blaster apareceu entre eu e meus amigos, olhinhos redondinhos, pisando devagarinho como se estivesse andando sobre ovos. Aproximou-se de mim, encostou em minha perna direita, depois pisou no meu pé esquerdo, me olhou nos olhos alguns segundos, simulou um sorriso, sentou do meu lado esquerdo, de frente para meus adversários no jogo e latiu forte. Cheirou meu rosto e ficou olhando para traz como se houvesse algo a me ameaçar sem eu saber.
Foi num domingo à tarde que Blaster apareceu lá na rua de casa, estava meio perdido, acho eu, ele era bem pequininin. As quatro patas eram e são até hoje, amarelas, o corpo marrom. As orelhas, a que fica sempre em pé é preta e a outra orelha que só fica caída é amarela. O pelo é baixo, o nariz não é longo, mas também não parece com o focinho do boxer, ele é cotó. Alguém cortou, e o Blaster não é grande nem pequeno, é médio, ele é meu. Neste domingo eu assoviei para ele, ele se aproximou, lambeu a minha mão, aí eu o puxei e o levei para dentro de casa. Blaster dorme no meu quarto, só a minha mãe que entra lá quando estou dormindo, senão ele morde. Já levei uma surra do meu pai por isso, ele entrou no quarto e o Blaster rasgou a barra da calça dele.
Alisei o Blaster, olhei pela terceira vez para os meus colegas, já estava na eminência de chamá-los de patetas, devido a raiva e o medo que mexia com meu humor. Peguei as bolinhas, as trinta e oito, coloquei as na minha capanga, depois olhei para as outras. Fitei eles pela quarta e última vez, ajoelhado na rua de terra: desfiz o desenho do triângulo na terra, empurrei as bolinhas restantes para perto dos pés dos meus adversários.
Fui erguido do chão batido pela orelha! O susto anulou a dor, o pavor por estar momentaneamente levitando por meio da minha orelha direita emudeceu-me. Não tentei procurar a origem da força que me sustentava no ar, não pensei, nem chorei ou dei qualquer sinal de vida. Fui tomado por um temor de tal grandeza que fiquei imóvel: medo, pavor e temor, meu Deus, tentei chorar, queria chorar, não era possível; a solidão; a escuridão e o silêncio absoluto apossaram-se de mim, me adotaram, me tornei refém da agonia.
Sua chegada foi subitânea assim como algumas lágrimas que se moviam me causando uma inquietude maior em meu coração. Afinal, o que estava acontecendo?
Quando consegui tocar com as pontinhas dos meus pés na rua de chão batido, quem havia me mantido no ar, agora me segurava pelo braço. Minha orelha doeu muito, além da torcida que levara de forma abrupta e intensa, as unhas do dedão e do dedo indicador quase se tocaram. Uma mistura de dor e ardência empurrou o medo e o pavor, que tomara conta de mim, para um cantinho da minha alma.
A dor na orelha não me abateu física ou moralmente, mas estar diante de meus amiguinhos e no meio da via pública, me fez sentir pequeno. A pequenez que me abatia, eu era uma criança, mas tinha sentimentos e muitas convicções de gente grande! Quanta gente grande tem convicções que são convicções de crianças? Há um montão de adultos agindo como crianças, alguns chegam a agir como criancinhas!
Com os dois pés bem plantados no chão, senti cada um dos dedos da mão que apertava meu braço, lembro como se fosse hoje. A ponta dos dedos do indicador e do médio se encontraram com a ponta do polegar. A dor chegou na mesma velocidade com que os dedos foram apertados, novamente fui erguido, mas consegui manter os pés no chão. Com o pé esquerdo eu mantinha toda a base do pé quando andava, mas com o pé direito eu só tocava a rua com as pontinhas do dedão.
A dor era muita, mas não larguei a minha capanga de bolinhas que estava na minha mão esquerda. Antes de olhar para cima e saber se era ele ou ela que me arrastava com tanto vigor, olhei para a direita e vi dona Maricóta, com seu vestidão preto com uma faixa vermelha na cintura amarrada nas costas com um laço. Sapatinho de tecido vermelho com lacinho preto no peito do pé, cabelos longos de cor cinza, olhinhos tão piquititinhos, nariz afilado, lábios carnudos e boca larga. Tinha apenas dois dentes, no arco inferior, um incisivo lateral direito. O outro era um canino do lado esquerdo no arco superior. A gente ria à beça dela quando ela ria e ela ria à beça da gente rindo.
Naquele momento, dona Maricóta não levantou de sua cadeirinha, nem riu pra gente, apenas me olhou com um olhar de compaixão: um olhar de ternura para um garotinho que estava sendo levando pelo braço.
Quando passei pela casa do senhor Jurandir, suas filhas, Júlia e Juma, levaram as mãos à boca. Não de espanto ou de pena de mim, mas para segurar os risinhos, risinhos de meninas indecentes. Podem rir suas bobonas, pensei, lá na escola vou pegar o lanche de vocês, suas jabiracas.
Meu braço doía muito, lágrimas rolaram, mas não saiu um piuzinho de minha boca. Na idade em que me encontrava, eu tinha certeza que já era um homem e homens de verdade não choram.
Olhei para frente, minha casa estava há duas quadras. Na velocidade que estava sendo conduzido e a dor que sentia, eu estava muito longe de casa ainda, a metade da eternidade.
Olhei para cima, uma mão de pele fina, dedos longos, unhas curtas, mantinha a mesma pressão de antes. Com seu vestido azul com listras amarelas até o joelho, gola até o pescoço, as mangas que iam até os cotovelos com fitas amarradas com lacinhos. Quando a olhei, ela não me olhou, manteve com seus passos constantes, olhar para frente, lábios cerrados, a respiração às vezes era pelo nariz, às vezes pela boca. Sua expressão era de indignação e desespero. Ela carregava alguma coisa na sua mão esquerda, mas não conseguia ver direito o que era.
Quantas vezes minha mãe teve que me buscar na rua? Várias! Sempre falando o que eu tinha feito de errado, eu na frente ela atrás, e logo que eu passava pelo portãozinho, as chineladas comiam no lombo. No mínimo umas quatro, nas costas, na bunda e nas pernas, já levei até dez chineladas, e sempre ouvindo os gritos dela:
-- Passa pra dentro excomungado, moleque safado, você precisa estudar, seu peste.
Às vezes, durante as chineladas, eu achava que minha mãe era louca, ou surtava com pouca coisa. Uma vez, ela ficou com tanta raiva de mim, que ela começou a espumar pelos cantos da boca; nesse dia, durante as dez chineladas, pensei: minha mamãe vai ficar doida varrida.
Eu não era um menino custoso, traquina ou brigão, apenas perdia a noção do tempo. Mas naquele dia foi diferente, não era aquela minha mãe de outras vezes: não falou nada, não olhou para mim, mantinha tanta força no meu braço que já não o sentia. O que aconteceu com minha mãe?
Quando estávamos a poucos metros de casa, meus coleguinhas nos alcançaram, passaram na nossa frente e pararam na frente da entrada da casa. Antes que minha mamãe tomasse uma atitude, Paulinho cara-de-cavalo falou para minha mãe:
-- Dona Filomena! Por favor!
Antes que Paulinho cara-de-cavalo continuasse a falar, eu falei:
-- Não fale nada para minha mãe! Ela sabe o que faz! Vão embora!
Minha mãe abriu o portãozinho de bambu, ao passarmos ela passou a tramela para manter o portão fechado. Abriu a porta da frente com a chave e entramos. Manteve meu lado direito meio suspenso, fechou a porta e correu a chave.
Quando passamos para o meu quarto, foi que vi na mão esquerda de minha mãe, uma vara de marmelo ainda verde, com algumas ferpas nos nós da varinha. A base da vara tinha a mesma espessura da ponta, uma varinha roliça de cinquenta centímetros. Percebi que a vara envergava muito e não quebrava, quando minha mãe me soltou ela envergou a vara várias vezes.
Naquele dia não fui à escola. Fiquei no quarto o dia todo. As horas foram passando e acabei dormindo. Quando dei por mim o dia seguinte já estava amanhecendo. Levantei devagarinho, com dificuldade para caminhar, sai do meu quarto, passei pela copa, pela sala e entrei devagarinho no quarto de minha mãe. Meu pai já tinha levantado, ela estava dormindo. Subi na cama devagarinho, levantei o braço direito dela devagarinho, me aconcheguei em seu peito, deixei que o braço dela ficasse sobre mim, dei lhe um beijinho no rosto, ela abriu os olhos. Aí eu disse baixinho:
-- Mamãe! Eu te amo!
Minha mãe me cobriu de beijinhos e dormimos abraçadinhos.
Eder Rizotto
Enviado por Eder Rizotto em 02/04/2017
Alterado em 02/04/2017
Alterado em 02/04/2017
Comentários